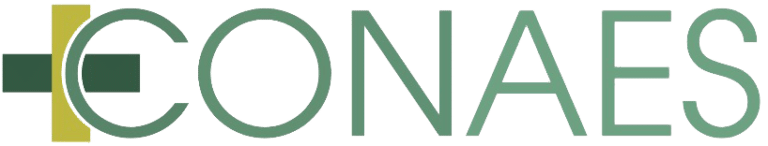A adolescência é um período marcado por intensas transformações emocionais e sociais. Nessa fase da vida, muitos jovens enfrentam desafios psíquicos significativos, como sentimentos de inadequação, isolamento social e a prática da autolesão — definida como o ato de ferir a si mesmo sem intenção suicida.
Estudos estimam que um em cada sete adolescentes manifeste algum grau de sofrimento mental, sendo que aproximadamente 14% já tenham se autolesionado pelo menos uma vez. A prática geralmente está associada à tentativa de aliviar dores internas relacionadas à ansiedade, depressão ou experiências traumáticas. Ainda que não configure ideação suicida, a autolesão é um sinal de sofrimento profundo e pode prejudicar a autoestima, as relações interpessoais, o desempenho escolar e, em casos mais graves, elevar o risco de suicídio.
O tema ganhou ainda mais relevância após a pandemia de Covid-19. Dados globais indicam que os sintomas de depressão aumentaram em 26% entre jovens de até 19 anos, enquanto a ansiedade cresceu cerca de 10%. No Brasil, o número de casos de autolesão entre adolescentes subiu 21% entre 2011 e 2022, reforçando a necessidade de políticas públicas e estratégias de cuidado específicas para essa população.
Pesquisa na UFSCar transforma relatos de adolescentes em ferramenta terapêutica
Foi nesse contexto que surgiu o projeto desenvolvido pela psicóloga Luiza Cesar Riani Costa, durante sua graduação e mestrado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com orientação da professora Diene Monique Carlos, atualmente docente da USP-Ribeirão Preto. O estudo, financiado pela FAPESP, teve como objetivo compreender os significados atribuídos por adolescentes à prática da autolesão não suicida e buscar alternativas de enfrentamento emocional por meio de uma abordagem participativa.
A partir de uma pesquisa qualitativa com nove adolescentes entre 12 e 17 anos, todas com histórico de autolesão, Costa utilizou a metodologia Photovoice — técnica que usa a fotografia como meio de expressão — para responder à pergunta: “O que alivia a sua dor?”. As participantes foram incentivadas a registrar, por meio de imagens, outras estratégias que utilizavam para lidar com o sofrimento emocional, além da autolesão.
Imagens que falam: arte, natureza e vínculos afetivos como recursos de apoio
O material coletado revelou um conjunto significativo de elementos simbólicos e afetivos relacionados ao alívio da dor psíquica. As 50 fotografias recebidas retratavam cenas na natureza, contato com animais de estimação, prática de atividades físicas, culinária, expressões artísticas (desenhos, música, filmes), momentos com familiares e vivências espirituais.
A análise individual do conteúdo, realizada durante os meses de março a julho de 2021 — em razão das limitações impostas pela pandemia — permitiu aprofundar a compreensão das vivências de cada participante. As entrevistas foram conduzidas a partir de questões reflexivas como: “O que você vê nesta imagem?”, “O que a motivou a tirar essa foto?”, “Como isso se relaciona com a autolesão?”
Segundo a professora Diene Carlos, mesmo com particularidades individuais, emergiram temas comuns entre as participantes, como a importância dos vínculos afetivos e a valorização de espaços de acolhimento e expressão. A presença exclusiva de meninas entre as participantes também levantou questões sobre gênero, uma vez que meninos foram convidados, mas não demonstraram interesse em participar. Isso motivou os pesquisadores a pensar em futuros projetos voltados especificamente ao público masculino.
Cartilha colaborativa: uma resposta criativa ao sofrimento juvenil
A partir das reflexões coletadas, as próprias adolescentes propuseram a criação de uma cartilha que reunisse as imagens produzidas e seus significados. Assim nasceu a publicação “O que alivia a minha dor: fotos e experiências de adolescentes”, disponível gratuitamente em português e inglês para escolas, serviços de saúde e profissionais que atuam com juventudes.
Mais do que um produto final, a cartilha representa um processo de elaboração coletiva do sofrimento e de construção de alternativas ao comportamento autolesivo. Para a autora do estudo, “o que essas meninas estavam fazendo era mais complexo do que simplesmente criar estratégias de enfrentamento. Elas estavam, de forma criativa, identificando o que as sustentava”.
A publicação foi apresentada no 15º Congresso Ibero-Americano de Investigação Qualitativa (CIAIQ2025), na Espanha, e publicada na revista New Trends in Qualitative Research. O material tem se mostrado uma importante ferramenta terapêutica e educativa de baixo custo, com linguagem acessível e coerente com o universo simbólico dos adolescentes.
Reflexões finais
A autolesão não deve ser minimizada ou tratada como um comportamento passageiro. Trata-se de um sinal de sofrimento psíquico que exige escuta qualificada, cuidado e criação de espaços seguros para expressão emocional. Iniciativas como a cartilha desenvolvida na UFSCar demonstram o potencial das metodologias participativas e criativas no campo da saúde mental, oferecendo caminhos concretos para acolher adolescentes em sofrimento.
A experiência também reforça a importância de abordar temas delicados com sensibilidade e responsabilidade, promovendo o diálogo entre jovens, educadores, profissionais da saúde e a sociedade como um todo. Afinal, ouvir e compreender o que sustenta um adolescente em sofrimento pode ser o primeiro passo para transformar dor em cuidado.