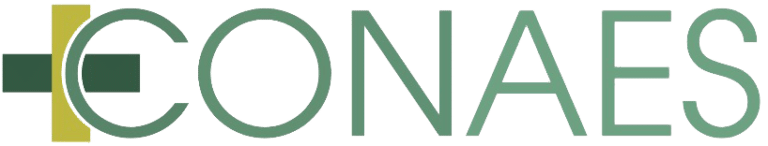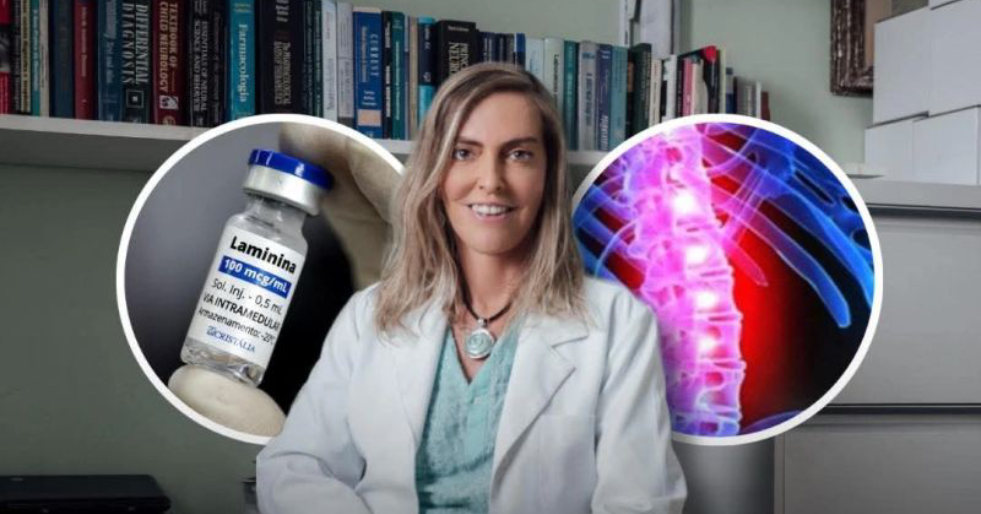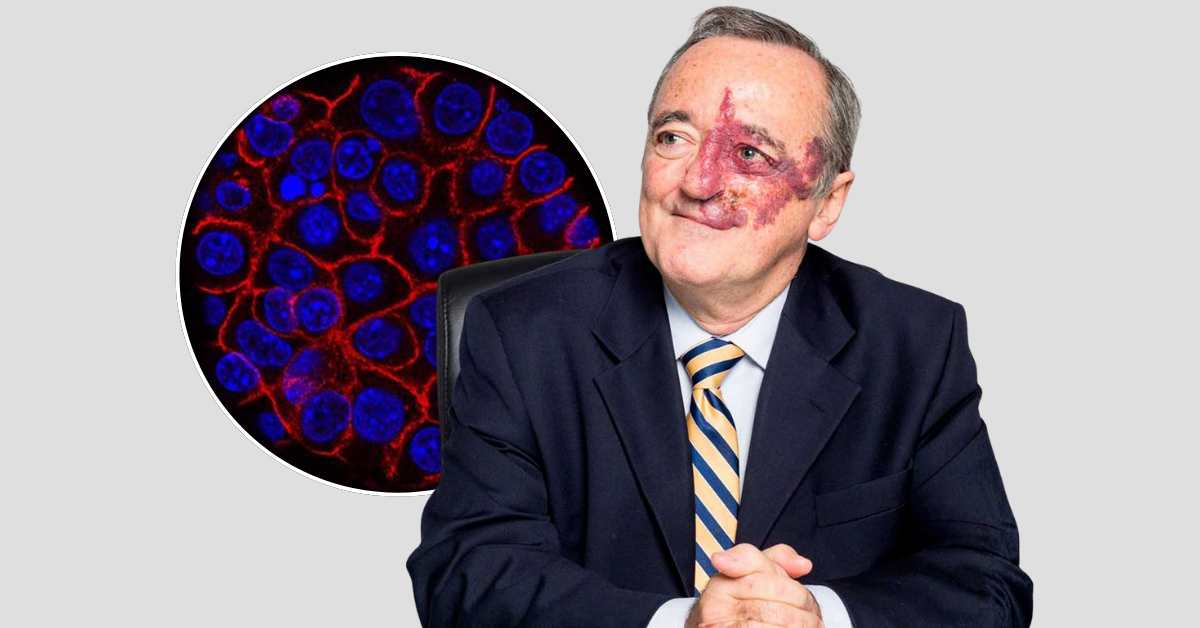No interior do corpo humano, escondida entre ossos, músculos e tecidos, vive uma coleção de nomes que homenageiam figuras históricas — muitas delas desconhecidas pela maioria das pessoas. Esses nomes, impressos em estruturas anatômicas essenciais, perpetuam legados de anatomistas e médicos que viveram há séculos.
São os epônimos, termos que nomeiam partes do corpo a partir de pessoas, e não a partir de sua função ou localização. Essa prática, comum na medicina, construiu uma verdadeira tapeçaria histórica dentro da anatomia.
Entre mitos e anatomistas reais
Alguns epônimos parecem saídos de histórias épicas, como o tendão de Aquiles, que faz referência ao herói grego cuja única vulnerabilidade era o calcanhar — justamente onde o tendão está localizado. O pomo de Adão, por sua vez, remete ao relato bíblico da mordida no fruto proibido.
Mas a maioria dos epônimos homenageia pessoas reais, sobretudo anatomistas europeus dos séculos XVI ao XIX, cujas descobertas moldaram o estudo do corpo humano.
Um exemplo notável são as trompas de Falópio, descritas em 1561 pelo anatomista italiano Gabriele Falloppio (1523–1562). Ele também deu nome ao canal de Falópio, no ouvido. Sua obra Observationes Anatomicae deixou um legado duradouro.
Outro é a área de Broca, batizada em homenagem ao médico francês Paul Broca (1824–1880), responsável por identificar a região cerebral relacionada à produção da fala.
Há ainda a trompa de Eustáquio, que conecta o ouvido médio à nasofaringe e se abre quando bocejamos em um avião. Ela homenageia o italiano Bartolomeo Eustachi (c.1510–1574), médico do Papa no século XVI.
Por que esses nomes sobreviveram por tantos séculos?
Os epônimos não são apenas marcas de conhecimento: eles refletem a cultura da anatomia.
Gerações de estudantes repetiram esses nomes em livros, provas e salas de aula. Cirurgiões os mencionam durante procedimentos como se fossem conhecidos íntimos.
Esses termos são curtos, práticos e memoráveis. É muito mais simples dizer “área de Broca” do que seu equivalente descritivo — giro frontal inferior posterior. Em ambientes clínicos dinâmicos, a brevidade importa.
Além disso, cada epônimo traz uma história.
Falópio soa como um músico renascentista; Aquiles lembra imediatamente um herói mitológico. Em meio ao vocabulário técnico da anatomia, essas histórias funcionam como atalhos de memória.
Tradição, poder e exclusão
A linguagem médica foi construída ao longo de séculos de tradição europeia. Para muitos profissionais, abandonar epônimos seria como apagar parte da história.
Mas essa mesma tradição carrega problemas.
A maioria dos epônimos homenageia homens brancos europeus, enquanto contribuições de mulheres, pesquisadores não europeus e saberes indígenas permanecem invisibilizadas.
E há casos mais graves: alguns epônimos homenageiam figuras com históricos sombrios.
A síndrome de Reiter, por exemplo, recebeu o nome do médico nazista Hans Reiter, que realizou experimentos em prisioneiros no campo de concentração de Buchenwald. Hoje, o termo preferido é artrite reativa, em rejeição explícita ao legado do médico.
Por que nomes descritivos são mais adequados?
Termos descritivos são mais precisos, universais e éticos.
Eles indicam função e localização, sem exigir conhecimentos históricos ou homenagens problemáticas.
“Trompa uterina” explica a função de maneira clara, ao contrário de “trompa de Falópio”.
“Mucosa nasal” indica imediatamente sua localização, enquanto “membrana de Schneider” causa estranhamento.
Termos descritivos também são mais fáceis de traduzir e padronizar, tornando a anatomia mais acessível para profissionais e estudantes de diferentes regiões do mundo.
O que fazer com os epônimos?
A Federação Internacional de Associações de Anatomistas (IFAA) incentiva o uso prioritário de termos descritivos, deixando os epônimos apenas entre parênteses.
Não se trata de apagar o passado, mas de contextualizá-lo.
Podemos ensinar quem foi Paul Broca ao mesmo tempo em que reconhecemos os vieses históricos de sua época.
Podemos lembrar Hans Reiter como exemplo de um legado que não deve ser perpetuado.
Esse equilíbrio torna a anatomia mais clara, mais justa e mais honesta.
A linguagem que usamos para descrever o corpo humano não é neutra: é um mapa de poder, memória e cultura.
Cada vez que dizemos “trompa de Eustáquio”, evocamos o século XVI.
Cada vez que dizemos “trompa uterina”, optamos por clareza e inclusão.
O futuro da anatomia talvez não seja apagar os nomes antigos, mas escolher — com consciência — quais histórias queremos preservar.